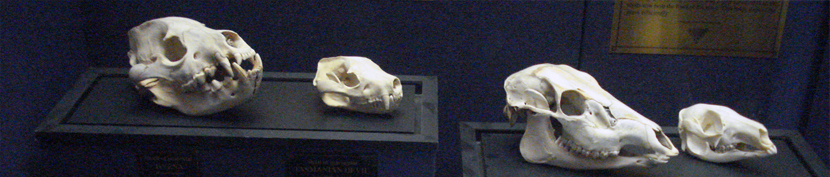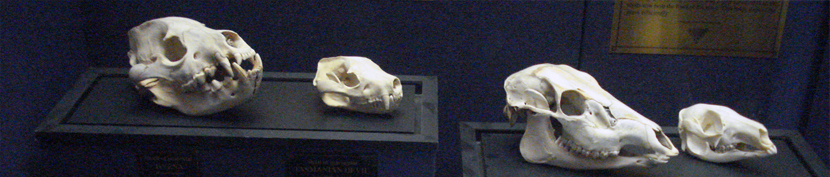|
Mário Cesariny e Teixeira de Pascoaes: relatório e fim
António Cândido Franco
Depois
desta conversa encontrei muitas vezes Mário Cesariny. Logo em
Janeiro, 1998, poucos dias depois da nossa conversa na Basílio
Teles, dou com ele na livraria da Assírio & Alvim, rua Passos
Manuel, Lisboa, na apresentação dum número da Espacio/Espaço
Escrito, revista publicada em Badajoz. No fim, estávamos os
dois num recanto, sem ninguém por perto. Debandara tudo para a
livraria, no rasto do Manuel Hermínio Monteiro e do Ángel Campos
Pámpano (foi a primeira vez que o vi). Cesariny olhou-me então
como nunca o fizera e como nunca depois o fez. O seu olhar, com
as lumeiras acesas na cara, ferozes e incandescentes,
trespassou-me até ao fim de mim mesmo. Disse-me estas palavras,
que não percebi (e ainda não percebo):
– És mais velho do que pareces.
Mais tarde, muito mais tarde, vi pintura de Cruzeiro Seixas, dos
anos quarenta, representando Mário Cesariny, de costas, ao piano
[está reproduzida em Prosseguimos Cegos pela Intensidade da
Luz (v. “Uma Bibliografia”)]. As cores daquela pintura
restituíram-me o cheiro, a cor, a vida do lume que me devassou
naquele recanto do rés-do-chão da rua Passos Manuel. Depois
desta entalação, só consegui perguntar-lhe, quase tartamudo:
– Como se resolve o problema ibérico?
Ao que ele me respondeu:
– Façamos um acordo. Portugal dá à Espanha o Alentejo e o
Algarve e a Espanha dá a Portugal a Galiza.
– É tão simples como isso?
– Mais ainda! Daqui a cem anos o mar há-de chegar a Badajoz.
De seguida encontrei-o em Cáceres, Espanha, na companhia da
Henriete, do Perfecto E. Cuadrado, do Hermínio Monteiro e do
Antonio Sáez Delgado (que mais tarde, em 2006, haveria de
traduzir Teixeira de Pascoaes na língua de Cervantes). Corria o
fim do Inverno do ano de 2000. Talvez tenha sido nessa ocasião
que ele me confessou que muito devia ao Manuel Hermínio
Monteiro, que o fora buscar à rua (a expressão foi dele) e lhe
dera um abrigo (uma casa editora). Meses depois, em Junho do
mesmo ano, subimos os dois a Amarante na companhia do Manuel
Hermínio Monteiro e do Ángel Campos Pámpano, ambos de boa saúde
(morreriam ambos pouco depois, o primeiro em 2001 e o segundo em
2008), para apresentar um novo número da revista
Espacio/Espaço Escrito (nº 17-18; 2000), [1] que
tinha pasta dedicada a Teixeira de Pascoaes (com a colaboração
da Elsa Nunes, aluna em Évora, que aí defendeu dissertação de
mestrado sobre Teixeira de Pascoaes, sob orientação do Antonio
Sáez Delgado). Tínhamos à nossa espera a autora de Na Sombra
de Pascoaes, a Maria José Teixeira de Vasconcelos, a
Zezinha, sobrinha dilecta de Teixeira de Pascoaes e sua
secretária, que nesse encontro se mostrou corrosiva, espontânea,
grande senhora que ninguém impedia de roer e serrotar o que lhe
parecia iníquo e nefando.
Só regressei à choupana da Basílio Teles dois anos depois, em
Novembro de 2002, desta vez na companhia do pernambucano Alípio
Carvalho Neto, em Portugal para escrever uma dissertação sobre a
obra de Mário Cesariny, que acabou por não sair. Revisitámos as
questões que nos tinham ocupado no encontro de Dezembro de 1997.
Cesariny fez então questão de me mostrar aguarela original de
Teixeira de Pascoaes que estava no corredor, onde uns anos antes
eu vira a estante com os livros de Pascoaes. No regresso ao
quarto, entrevi a Henriete na sala, a chorar por via da morte de
pessoa amiga. De original, recordo a opinião chocante do Mário
sobre o movimento gay (era absolutamente contra) e a
frase com que se saiu, quando falámos da sua obra poética.
– Quando me dediquei ao amor carnal, a poesia pôs-me os cornos!
Foi nesse encontro que me dei conta da obsessão que nele havia
pela Epopeia de Gilgamesh. Lera muitas versões europeias,
sobretudo francesas e inglesas, do poema sumério-acádico [talvez
tenha mesmo observado no British Museum, em Londres, os
fragmentos que fizeram parte da biblioteca de Assurbaníbal (669
a. C.)] e relia nessa época as que tinha à mão, por cima da
cama, numa prateleira irregular de livros. Encarava a
possibilidade de criar em português uma versão sua do poema. Na
altura não percebi a extensão e as ramificações desta fixação (a
não ser que o poema era memória ancestral). Hoje entendo que a
afeição de Gilgamesh, rei de Uruk, e Ekidu se fazia o bastante
para açular nele o sonho de ligar vida, sangue e saliva às
palavras primordiais (mais do que fundadoras) desse poema.
Poucos dias depois, no meado de Dezembro, encontrámo-nos na casa
de Pascoaes, em Gatão, Amarante. A 14 de Dezembro passavam
cinquenta anos sobre o falecimento de Teixeira de Pascoaes. A
editora Assírio & Alvim, pela mão de Manuel Rosa e António
Lampreia, decidira reeditar a grande antologia de Teixeira de
Pascoaes, organizada por Mário Cesariny e publicada pela
primeira vez in 1972. Desta vez foi possível nela fazer justiça
ao Gaspar Simões que percebeu a insurreição ou a ressurreição de
Pascoaes por via do surrealismo em português, recolhendo as suas
palavras em marginália e juntando-o assim a Pascoaes e a
Cesariny. O Município de Amarante lembrava em várias sessões no
Salão Nobre da Câmara e em exposição no Museu Souza-Cardoso a
figura e a obra plástica de Teixeira de Pascoaes. Tomámos juntos
na casa de Gatão o pequeno almoço, servido pela Maria Amélia,
viúva de João Vasconcelos e sobrinha de Teixeira de Pascoaes.
Cesariny e Henriete pareciam duas crianças terríveis a dançar a
pavana; a Manuela Correia, viúva do Hermínio Monteiro, editor de
Pascoaes, fechada na doida melancolia da sua viuvez recente,
molhava nas lágrimas os pincéis e enchia de aguarelas outonais
as folhas dum caderno. Meses mais tarde, no bairro de Santa
Cruz, a Lena d’Água (ou Águia-escorpião ou ainda Helena Águas)
mostrar-me-ia, de frente, a casa onde ela crescera e o recanto
onde as duas se encontravam na adolescência, talvez para puxar
um fininho, enquanto o doido tráfico, aos berros, escoiceava na
Estrada de Benfica. E eu? … Eu, nada – como diz o Mário
num poema de 1953. Eu, deitando o mirone às tinturas da Manuela,
chegando o cinzeiro à Henriete, sorrindo para o babaréu do
Mário, tropeçava nas palavras de Camões, abertura das
redondilhas de Babel e Sião, sem saber se as águas eram
dali ou de lá, e estremecia nos ossos da alma uma saudade fina e
sem porquê. Nenhum valhacoito me fora tão de agrado como essa
casa de Pascoaes, molhada de névoa e saudade, em dia frio de
Dezembro, na companhia da benevolência e da lisura. E nenhum
depois disso me foi tão grato e querido, na realidade ou na
lembrança. Ainda hoje me encho de alegria quando recordo esse
recanto antigo.
Descemos depois ao pequeno cemitério de Gatão, onde Pascoaes
repousa numa campa rasa, com uma simples lousa, onde se
inscrevem dois versos que ele propositadamente escreveu para ali
figurarem: Apagado de tanta luz que deu/ Frio de tanto calor
que derramou. Tudo reverdecia naquele fim de Outono, como se
o crepúsculo vespertino ali fosse uma aurora aprilina. Em torno
da pequena e modesta campa encontrámos e abraçámos, numa
atmosfera de saudade e comoção, entre muitos outros, a Maria
José Teixeira de Vasconcelos (que entretanto abraçara na festa
em memória do Hermínio Monteiro, no antigo cinema Roma, a 10 de
Setembro de 2001, dia em que ele faria meio século de vida) e a
Adelaide, a filha do Zé Cobra, afilhada do Poeta, sua companhia
de todos os dias nos últimos anos da sua vida, ele um velho de
cabelo raro e branco, esqueleto à vista, olhos em fogo, dedos
queimados pelo cigarro, ela uma criança robusta e mística, uma
flor sem ossos nem pedras. Coube-me apresentar os dois, a
Adelaide e o Mário. Este nunca vira a mítica criança por quem
Pascoaes se tomara de compaixão no fim da vida e ardia por
conhecê-la. Estávamos os três num recanto escuro do átrio da
ermida do cemitério e o Mário, quando teve entre as mãos as da
Adelaide, na altura uma senhora com cerca de sessenta anos,
tornou-se naquele menino de cabelo branco que em dia frio do fim
do século XX me recebera na soleira da sua casa. Estava
deslumbrado e reconhecido. Foi aí, nesse recanto da ermida, que
ele viu fotografia do Zé Cobra, mostrada pela filha. Era um
homem escanhoado, de fato e gravata, penteado ao milímetro a
brilhantina. Segredou-me ele:
– Eu quero ver é o Zé Cobra despenteado, em fralda suja de
camisa, socos ferrados de serrano, como ele andava, dia a dia,
na quinta de Pascoaes.
Juntou-se a nós o António Telmo, que o Mário não conhecia e
recebeu de braços abertos, e ali ficámos os quatro, na manhã
húmida de Dezembro, com o rumor das águas do Tâmega por perto,
lembrando os últimos dias de Teixeira de Pascoaes, aqueles em
que a afilhada o acompanhara e em que o Mário o ouvira no Teatro
de Amarante. Mais tarde, por motivo deste encontro a quatro, e
ainda por via das relações de Teixeira de Pascoaes com o
surrealismo em português (melhor, da dinâmica deste a partir
daquele), vim a ter dura e inesperada testilha com o António
Telmo (v. “Uma Bibliografia”).
A última vez que vi o Mário Cesariny foi a 3 de Maio de 2004 na
Cinemateca, na apresentação do filme de Miguel Gonçalves Mendes.
Da película, recordo a cabeça do Mário acompanhada por um rugido
de leão; do Mário, lembro a simplicidade atrabiliária com que se
voltou para a sala, olhos fechados, quando as luzes se
acenderam, dizendo com um encolher de ombros para um público de
jovens:
– O poema que se ouve não é mau.
Riram os jovens, os muitos jovens. Que de jovens (pensei eu)! O
Mário apanhara-os às levas, por encomenda, década a década,
desde os de gabardine enxovalhada dos anos sessenta, que o
ouviam nas livrarias do centro, aos de piercing, que já
no terceiro milénio o vinham ver no filme de Miguel Gonçalves.
Pelo meio, estavam os que haviam nascido com a queda do Estado
Novo, como eu, e a quem ele avisara, em momento espontâneo e
manual de improviso (o cartaz sobreviveu e ficou no fundo da
Cupertino de Miranda), que o surrealismo não era uma estética,
não era uma forma de arte, mas uma REVOLUÇÃO, uma forma nova e
diferente de viver e pensar. Pediram-lhe os novos, os com
piercing, mais palavras e ele exclamou melancólico, entre
Bénard da Costa e Miguel Gonçalves:
– Tudo isto é lindo, com todos a baterem palmas, a quererem que
eu fale, mas o problema é que quando isto acabar vou ter de
regressar sozinho a casa. E vocês nem sabem como aquilo para a
Palhavã é frio e feio.
Era assim o Mário, mais nobre que feroz, mais simples que
maldoso, mais santo que sibarita. Gostava de se expor, de
mostrar tudo preto no branco, sem censuras, aberto e directo,
quase provocador, cioso da sua liberdade privada e pública (e
por isso intensamente faccioso e vigilante). [2] Assim
como assim, era no geral duma correccção inexcedível. Recorria
menos à palavra grossa que ao alívio da graça. Nunca o vi
deslizar para o insulto ou para o desabafo crítico. Tudo nele
era inocente e infantil. O seu génio era gentil e benévolo.
Ainda tentei no fim da sessão chegar à fala com ele, retomando o
diálogo sobre Teixeira de Pascoaes, mas a multidão que o rodeava
num recanto da Cinemateca era tanta que se percebia o seu
aborrecimento. Julguei vislumbrar nesse momento, a seu lado,
Luís Amorim de Sousa, seu conviva nos tempos de Londres. Preferi
não insistir e parti a pé pela avenida da Liberdade na companhia
do António Barahona. Abriu ele na alma o livro de lembranças que
tinha do Mário. Desfiou. Já o ouvira antes, em várias ocasiões,
falar da familagem que tivera com o Mário (este, por sua vez, na
visita de 1997, confessara-me que dias antes visitara o tugúrio
liliputiano do António, na calçada de Santana).
A certa altura, na esquina da rua do Salitre, o António pára e
diz-me, incrédulo e comovido:
– Conheço o Mário que vimos no filme desde os meus dezoito anos.
Dou-me conta que isso atira ao ano de 1957. Quase cinquenta
anos de convívio, penso comigo. É monumento! Seguimos por ali
abaixo, conversando sobre o trabalho que ele então realizava na
Assírio & Alvim. Tinha uma edição da poesia de Cesário Verde
para sair. Citava-me, disse-me, a propósito de Guerra Junqueiro.
No Rossio despedimo-nos, ele em direcção da calçada de Santana,
onde tinha casa, eu pela rua do Ouro até ao rio, para apanhar o
comboio para Cascais. Na minha cabeça tinha um dos nossos
primeiros encontros, na Brasileira do Chiado, por volta de 1977
ou 1978, quando, embrenhado na descoberta dos Últimos Versos,
lhe perguntara o que pensava de Teixeira de Pascoaes. António
Barahona era então poeta de muita obra publicada, que eu
prezava, ao lado da de Herberto, António José Forte, Manuel de
Castro e Ernesto Sampaio. Recordava sempre com veemência o ardor
e a paixão com que ele afirmara no número único duma das
publicações colectivas do surrealismo em português que por esse
tempo ainda circulava por Lisboa & arredores, Grifo
(1970), se não fosse o surrealismo eu não sabia ler (cito
de cor). À minha pergunta, respondera-me porém com alguma
frieza:
– Gosto do Livro de Memórias. Leio-o, neste momento. O
verso não me interessa, mas a prosa do Livro de Memórias
passa a prova. É tudo hoje o que vale a pena ler dele. É o que
vai ficar.
Depois disso, também o António bateu o seu caminho, se não a sua
estrada de Damasco, que o levou a publicar Os Dois Sóis da
Meia-Noite (1990), onde aproxima por cima de todos os outros
Camões e Teixeira de Pascoaes. Tiro do volume e leio: Camões
e Pascoaes são os maiores representantes da Poesia Portuguesa
(p. 12). E ainda: Mas, se Pessoa, grande poeta, tem uma
dimensão europeia, Pascoaes, poeta grande, tem uma dimensão
universal. (...) Pessoa começa, agora, a ser entendido e
divulgado no espaço europeu a que ele mesmo se confinou como
previsor da actualidade e guia previdente do futuro próximo.
(...) Pascoaes só será entendido, talvez, daqui a mil anos, mas
no mundo inteiro, quando já, talvez, nem haja Portugal, mas a
Saudade da Pátria, que é o sentimento gerador, como da boca de
uma fonte, da Poesia pura. (pp. 13-4). Assim como assim, os
poetas tutelares do António não parecem ser Camões e Pascoes,
nem tão-pouco Pessoa, mas, atendendo às remissões dos seus
versos, Cesário e Pessanha.
O Mário Cesariny partiu desta vida, de vez e sem companhia, a 26
de Novembro de 2006. Tinha oitenta e três anos e deixou atrás de
si um vazio imenso, porque foi dos últimos a escrever e a pintar
com a autenticidade do espírito. Quando tomei nota do seu
falecimento, sofri choque muito grande. Não o via desde Maio de
2004 e fora sempre adiando uma nova conversa com ele por razão
dum livro sobre Pascoaes que então preparava e que apareceu em
Setembro de 2006, Viagem a Pascoaes. O livro reescrevia a
Carta a um Amigo sobre Teixeira de Pascoaes e o Cristo de
Travassos, que merecera os encómios do Mário e acabara mesmo
por ser o pretexto da nossa primeira entrevista na Basílio
Teles.
No encontro em Amarante, Junho de 2000, em torno da revista
Espacio/Espaço Escrito, lembro-me de lhe falar nesta
reescrita, interessado na sua opinião.
– Cuidado – avisou ele – ainda estragas o que fizeste. A
carta vale, porque foi espontânea. Se te pões a fazer
croché, dás cabo daquilo.
Deixei de lado o projecto e só o retomei por volta de 2004,
quando começava a habituar-me a viagens de longo curso. Assim
como assim, lembrava-me da cautela do Mário e retraía-me em lhe
falar, preferindo ter o livro pronto para lho dar. Depois logo
se veria. O livro apareceu em finais de Setembro de 2006 e logo
lho enviei por correio postal. Esperaria pelo Natal para lhe
telefonar e combinar com ele novo encontro na Basílio Teles.
Disseram-me depois que nessa altura já o Mário não dava passo
pelo seu pé e alguém o transportava ao colo. Uma manhã em que
deambulava pelas ruas de Lisboa, nem dois meses eram passados,
deparei com a notícia da sua morte na primeira página dum
jornal. Fui a correr para o Palácio Galveias, Campo Pequeno,
onde o corpo estava em câmara ardente. Na entrada, no meio duma
multidão ruidosa, indiferente de todo ao Mário (estavam lá as
televisões), encontrei a Maria Amélia, de Pascoaes, e agarrei-me
a ela a chorar.
– Que o terror da morte se possa transformar no sublime
maravilhoso da vida! – foram as palavras que pronunciei
entredentes, junto do corpo tolhido e miúdo do Mário.
Lembrava, como hoje lembro tão intensamente, o espanto, o
desnorteamento, o receio, em que ele caía, sempre que falava da
morte. Perguntou-me algumas vezes: – para onde é que tu achas
que vamos depois de morrermos? A morte assustava-o. Olhando para
trás, para o período que vai de 1989 a 2006, vejo o Mário e vejo
a criança anódina que ele era (acabou como um bebé, ao colo, sem
pernas para andar). Uma criança que nos seus grandes dias de
aventura visitara o Inferno e que nada podia chamuscar.
Procurara o seu Diabo [como se vê pela primeira versão do estudo
(!) sobre o Rimbaud em português] e vira-se à nora para dar com
ele. Era o Diabo português, marinheiro e farandoleiro, que tanto
trabalho lhe dera evocar e invocar, por apagado, indistinto ou
soterrado. Por fim encontrara-o e dera-se às maravilhas com ele.
Nunca se separava dele. Era um Diabo nada adusto (ao invés do
alemão, que tresanda a esturrado), ronceiro e gentil, com asas
de anjo (como os guaches de Teixeira de Pascoaes que estão no
quarto de Gatão), que não aborrecia ninguém e menos ainda o
brincalhão do Mário.
O voto que fiz junto do seu ataúde faço-o hoje diante da sua
venerada e veneranda lembrança. Que o Mário possa continuar a
ser a criança de asas abertas que nunca deixou morrer dentro de
si!
NOTAS
|