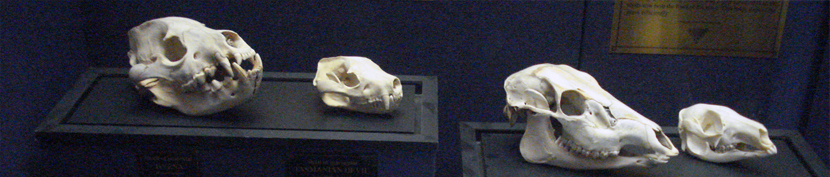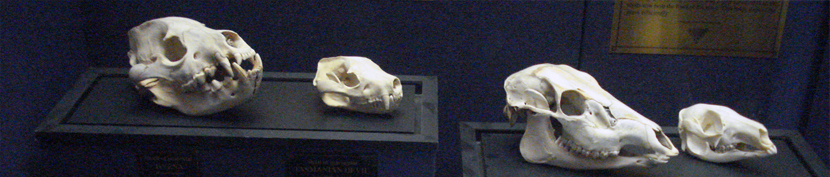|
Teixeira de Pascoaes e os surrealistas em português
António Cândido Franco
A
leitura da obra de Teixeira de Pascoaes (1877-1952) pelos
surrealistas portugueses constitui um dos aspectos mais efusivos
e exaltantes da recepção da poesia do autor de Regresso ao
Paraíso. Há nela uma luz votiva, uma promessa de
reaquisição, que em nenhum outro lado, no que diz respeito a
Pascoaes, se encontra. Tal faceta não mereceu porém dos
estudiosos qualquer atenção digna de registo. Que eu saiba não
há um único estudo que tome por senda a ligação de Teixeira de
Pascoaes ao surrealismo em português, ou a ignição deste naquele
[salvante aqui, para maior confusão de todos, o de Osvaldo
Manuel Silvestre (v. “Uma Bibliografia”)], o que, depois do
muito, e do muito mau, que se tem dito sobre o Poeta do Marão,
seria caso de pasmo ou de escândalo, não se soubesse há muito
que só se estima no geral e no presente o que não estraga o
desígnio instalado. E, quando tratamos de poesia portuguesa
recente, falamos duma sessão reservada, cujos bilhetes
trazem lugar marcado, ou duma prima-dona, cujo capricho
não admite réplica.
Teixeira de Pascoaes tem sido lido, relido e treslido como um
autor que decorre da poesia finissecular oitocentista, em
particular do neogarrettismo de António Nobre e do dito
neo-romantismo de Os Simples de Guerra Junqueiro. É isso
que encontramos nas leituras de Régio, Gaspar Simões, Casais
Monteiro, Jorge de Sena, Jacinto do Prado Coelho, Óscar Lopes,
Manuel Antunes e nas de todos os outros que para nossa decepção
e alguma revolta se debruçaram sobre a poesia grande de Pascoaes.
Abro ao acaso um destes críticos e leio o que se segue: tal
como Oliveira Martins, como Junqueiro na Pátria e como A.
Nobre, [Teixeira de Pascoaes] parte de um sentimento de
frustração pátria que foi agravada pelo Ultimato. A sua solução
consistiu em transmudar em sentido vagamente panteísta e
espiritualista a ideia do progresso geral da natureza e da
humanidade que herdara da geração de 70, em elevar a apologia da
saudade, já tradicional no lirismo português, às proporções de
uma intuição étnica: a intuição da essência espiritual a que a
humanidade tenderia, através da sua marcha histórica. (Óscar
Lopes, in História da Literatura Portuguesa, 9 ª ed.,
1976, 1052-3). [1]
Boa (e estrídula) malha! Mas Pascoaes, com tanto andamento,
tanto braço, tanto ardil, não tem solução senão ficar amarrado
ao século XIX; não se vislumbra ali, naquelas linhas, o mais
pequeno raio de actualidade. Em raros momentos, e raros não
sabemos se por incómodo ou se por simples falta de atenção,
estes críticos olharam para as relações que a obra de Fernando
Pessoa começou por ter com o saudosismo de Teixeira de Pascoaes,
através dos textos publicados em 1912 na revista A Águia
sobre a nova poesia portuguesa e com o aparecimento dos
primeiros poemas de Alberto Caeiro, que contêm, como é sabido,
em dois ou três momentos cruciais (sobretudo o poema XXVIII), [2]
referências explícitas à experiência poética de Pascoaes. Ainda
assim, estas pontes, que noutro caso seriam imponentes e
admiráveis construções de passagem, foram tão-só bagatelório a
que ninguém ligou; e quando atendeu foi mais para marcar a
diferença ou a ruptura entre os dois poetas – abrindo um fosso
fundo, pasme-se, entre saudosismo e modernismo – que para
estabelecer afinidades e encontrar uma linha de continuidade
entre eles. Teixeira de Pascoaes, não obstante as interpelações
do jovem Pessoa, ou por isso mesmo, continuou a ser visto como
um poeta anterior à modernidade, um poeta do passado,
tributário do século XIX e dos seus modelos, autor duma poesia
que desconheceu o versilibrismo e as liberdades do verso
modernista.
Também ao acaso abro e leio, desta vez Jacinto do Prado Coelho
(1920-84), que fez de resto um inestimável (e desmedido)
trabalho editorial sobre a obra de Pascoaes, que seria
iniquidade minha esconder, esquecer ou desvalorizar: Quanto à
linguagem poética, um regresso: herdeiros do Junqueiro d’ Os
Simples e das Orações, ligados também ao romantismo
neogarrettista de Nobre, os saudosistas pouco aproveitaram da
experiência formal do Simbolismo; preferem uma expressão mais
tradicional, mais clássica, o “verso escultural” de Pascoaes;
não se demoram num esforço de análise do subconsciente, são
muito menos modernos e europeus que os poetas – afinal
contemporâneos – do Orpheu. Daí o desentendimento entre
Pascoaes e F. Pessoa, que cedo abandonou A Águia, onde o
seu espírito renovador se sentia constrangido. (in
Dicionário de Literatura, “Saudosismo”, vol. IV, 4º ed.,
1997, p. 1007-8)
Percebe-se: sabe tão bem neste rincão pachoucho ser moderno e
europeu. Ninguém doutro modo se salva, muito menos no
Portugal delambido da cultura, cheio de tiquetaque e urticária
ao espelho duma Europa graúda e grossa. Assim como assim,
bastava ao autor da frase atentar com cuidado no que antes
escrevera – não se demoram num esforço de análise do
subconsciente – para se dar conta em toda a linha do engano,
quero crer involuntário, do juízo.
***
Desde sempre, desde que me passou pelas mãos um livro de
Pascoaes, o que decerto aconteceu no centenário do nascimento do
Poeta, em 1977, que percebi o descompasso entre as linhas e as
leituras. O que estava nas letras dos livros confrontava com
desacerto, mas também com finura, as redutoras sentenças
adiantadas pelos comentadores. A rábula dum Pascoaes
anti-moderno não batia com o autor que assinou, nos
Versos Brancos por exemplo, algum do mais espontâneo e
autêntico versilibrismo português da primeira metade do século
XX.
A experiência poética, acabada a leitura descomprometida, era
afinal muito mais rica e propulsora do que aquela que se
continha num juízo equívoco em torno dum Pascoaes acantonado no
século XIX. Convenhamos que a visão dum Pascoaes divorciado da
modernidade se colou ao poeta como uma segunda pele;
dificilmente encontramos uma leitura que dela se afaste. A
origem do lugar que se fez comum, se não cliché de gato manso,
remonta à revista Presença (1927-40) e aos seus algibebes
mais nomeados, João Gaspar Simões e José Régio, que na pressa de
fraquearem (de fraque ou froc) os afortunados e muito
enfarpelados poetas de Orpheu acabaram por esquecer, se
não desnudar, Teixeira de Pascoaes.
Dou a palavra a Sant’Anna Dionísio: A revista Presença,
que durante quinze anos representou o sumo e a nata do
pensamento literário moderno em Portugal, e em cujas colunas
tantas coroas se teceram para enfeitar as frontes de tantos
vates nativos e exóticos, nem uma palavra dedicou ao
aparecimento de qualquer obra do Eremita de Amarante. E
todavia durante esses quinze anos apareceu São Paulo, Santo
Agostinho, São Jerónimo, Napoleão, O Penitente – cinco obras
que, por si só, dariam a imortalidade ao Poeta em qualquer
literatura do mundo. [in O Poeta, essa Ave Metafísica,
1953 (1954), p. 38-39] [3]
Ninguém – a não ser José Marinho – vislumbrou então que a poesia
portuguesa encontrava na mensagem mais funda da poesia do vate
do Marão o ponto de partida dum novo trilho de desenvolvimento.
Pascoaes ficou nu, em pele de galinha, a tiritar de frio nas
fragas ásperas do Marão e ao que se sabe não se chateou muito
com o assunto, menos interessado que andava nas casacas cómodas
do Chiado que nas grandes tempestades de electricidade que lá no
céu dele ribombavam. Dava-se por feliz com aquela lua de verdete
e calcário que lhe calhara nas sortes; mesmo nu, descalço,
intonso, mal arrumado, rústico, esquecido e desurbano, pôde
arrancar a grande velocidade para a recta final da sua obra, que
começa no São Paulo e termina a uns tantos anos-luz dos
nossos olhos, não se sabe bem onde nem para onde.
Mais grave que a falta de visão dos algibebes da Porta do
Almedina, que levou a alguns graves atropelos nas avaliações
então feitas, é hoje a existência, o ardil, duma crítica chã e
bovina, apesar da aparência teratológica, de aligátor, que
resume a poesia portuguesa da primeira metade do século XX a um
primeiro modernismo, o de Orpheu, e a um segundo
modernismo, o da Presença, donde Pascoaes fica
naturalmente arredado, já que, para infortúnio dele e nosso, em
nenhum dos dois participou.
Assim como assim, é preciso fazer justiça a João Gaspar Simões,
que na época madura de afirmação e combate do surrealismo em
português, enquanto outros riam e estafavam os últimos saldos,
soube bater com a mão na testa e surpreso gritar a exclamação de
Arquimedes. Escreveu então algumas palavras com olho de lince e
bico de falcão, que por direito próprio justificaram Pascoaes
como um grande Poeta até aí ilegível – e este aí é só o
reagente alquímico que revelou as letras originais do
palimpsesto-Pascoaes.
***
A recepção do poeta de Marános junto do surrealismo em
português, em primeiro lugar de Mário Cesariny, já na transição
da primeira para a segunda metade do século XX, afigura-se-me
por tudo isto e ainda por direito próprio do maior relevo e só
espanta que os admiradores e os estudiosos de Cesariny, dentro e
fora de portas, ainda não tenham pegado na ponta do novelo, que
tem fio para muita novidade e revisão. O surrealismo que se
falou e fala em Portugal foi para Teixeira de Pascoaes nada
menos que o formidável reagente que arrancou da invisibilidade
as letras esquecidas (e até aí irrisórias) da sua poesia, sem
distinção de verso ou de prosa. Estão aquelas assim para o
surrealismo em português como as de Lautréamont estão para o de
língua gaulesa. Nenhum outro precursor oferece em Portugal ao
surrealismo o que Pascoaes lhe foi e é capaz de dar: uma estrela
de dimensão maior, cuja luz teimava em ficar oculta. Mérito do
reagente, que decifrou os hieróglifos primitivos e modernos do
megalito do Marão, percebendo neles uma propulsão de futuro, e
merecimento também e ainda do corpo do aerólito, cuja alma, ao
contrário do que pensava e afirmava aquele crítico que reduzia a
obra a uma intuição étnica, ia muito além de Almeida. [4]
A combustão do surrealismo em português a partir da voz de
Pascoaes é facto, além de comovente, probatório; testemunha ele
que Pascoaes não foi um meritório e arrumado poeta do século
XIX, equivalente a muitos outros, mas um criador raro e
intemporal, cheio de vigor e originalidade, capaz de interessar,
já depois das vanguardas e do modernismo, o primeiro, o segundo
e os adjacentes, um grupo de poetas portugueses da segunda
metade do século XX. Para nós, depois do surrealismo em
português, Pascoaes passou a ser um primitivo-moderno (ou um
moderno que não abandonou o primordial); [5] antes dele,
quando Presença quis pôr a parvónia à la page, era
tão-só um poeta do século XIX, romântico, neo-romântico,
lusitanista, anti-moderno, blandicioso, ou tão-só
ingénuo-simples, digno de desdém (o que de feito foi, ou não
tivesse trasladado em prosa e reescrito em verso, sempre em
jeito de autobiografia, O Pobre Tolo).
Para essa rotação, bastou que o surrealismo em português
procurasse a fractura duma dimensão mítico-simbólica, que estava
além do horizonte da afirmação temporal e geracional que
caracterizara a geração ou as gerações modernistas das
vanguardas, interessadas apenas em valorizar a velocidade
ostensiva do contemporâneo. É conhecida – e de aplaudir por
inteiro – a indiferença de André Breton diante do moderno pelo
moderno, como se aquilo que de verdade lhe interessasse tanto se
encontrasse no passado, no presente, no futuro ou noutro tempo
qualquer a inventar. O autor de Arcano 17 não distinguia
entre o antigo e o moderno mas entre o maravilhoso e o patético.
E acabou mesmo, de resto como o Artaud dos Tarahumaras, a
valorizar o passado, o mais antigo de todos, o da pedra polida,
o primordial, diante do perfunctório, quando não do horror
agónico, do presente, esse presente ossuário, metálico e
futurista, Manhattans de vidro e chips-chips, mas destituído de
todo o plano humano, ético e mágico.
O que me proponho neste escrito, mais em jeito de memento
e apólogo que de ensaio, é dar um primeiro contributo ao
conhecimento da recepção de Teixeira de Pascoaes junto do
surrealismo em português. Acredito que o subsídio, por mínimo,
interessa muito a Teixeira de Pascoaes mas também vai bem aos
surrealistas portugueses. O Poeta do Marão tem grandeza
suplementar com a leitura entusiástica de gente como Mário
Cesariny, Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, Ernesto Sampaio, mas
a singularidade destes também se vê melhor através de Teixeira
de Pascoaes. E além de lente, este é filtro também. É bem
possível que só através dele, Teixeira de Pascoaes, o
surrealismo em português encontre o coador à medida de reter e
vazar (entenda-se, deitar fora) o grosso, que em nada lhe
interessa ou convém, dando saída e consagração, com vista ao
futuro da vida, à parte fina, fluida e genuína das suas
realizações.
Quero assim deixar aqui, sem mais, um trabalho de rememoração da
tessitura (desnorteante, baralhadora de certezas) que é a trama
de Teixeira de Pascoaes nas palavras do surrealismo em
português. É um preliminar a um desenvolvimento posterior e a
uma conclusão – a tirar, mais tarde, se assim se quiser – do
século XX poético português. Por agora, interessa a proposta –
desenhar de memória a carta dum território imaginário, balizado
por Teixeira de Pascoaes e pelos surrealistas em português – e o
primeiríssimo desenvolvimento, o aperitivo em jeito de passeio,
nas palavras que se seguem.
NOTAS
4. Há – que eu conheça – uma excepção: Bernardo Pinto de
Almeida, estudioso de Mário Cesariny e leitor fugaz (mas
concernente) da sua relação com Teixeira de Pascoaes, por meio
dos desenhos deste. É leitura, a meu ver, muito mais lhana e
larga que a de Osvaldo M. Silvestre (já citada e com valor quase
só bibliográfico, pois de todo desconhece o que fosse, seja ou
for a escrita de Teixeira de Pascoaes).Transcrevo (e subscrevo):
Não havendo entre nós tradição quase alguma de povoamento
imaginário isto é, dessa capacidade de projectar sonhos
através das obras de criação plástica (...), Pascoaes surgia
como o autor de uma obra vasta e consequente mas, sobretudo,
como aquele que tinha assumido, em inteira autonomia e o mais
radicalmente que era possível, essa dimensão do irracional, que
tanto poderia surpreender os jovens poetas e artistas que
tentavam tornar também portuguesa a Revolução Surrealista
Internacional./ Tendo-o conhecido desde muito cedo, Mário
Cesariny, que privou com o poeta e foi assiduamente visita de
Gatão, bem como alguns dos seus companheiros, entre os quais
Cruzeiro Seixas, necessariamente haveriam de ter compreendido
através desses desenhos e pinturas deste inesperado mestre, toda
uma dimensão de sonho e fantasmagoria que valia bem o não termos
tido um Victor Hugo./ Eis pois razões que bastem para que se
redescubra Pascoaes não apenas pela sua grandeza própria,
intrínseca, mas também por essa vasta influência que faz de
qualquer legado uma herança que só se reavalia em toda a sua
extensão quando assim o tempo chega de deixar claras as contas.
[in “Pascoaes ou a dramaturgia dos Espectros” (v. “Uma
Bibliografia”)].
Por causa deste texto de Bernardo Pinto de Almeida escreveu
António Telmo uma nota [“A Cabra”, (v. “Uma Bibliografia” e nota
40)] sobre Teixeira de Pascoaes, o Surrealismo e Mário Cesariny,
que motivou carta minha de protesto ao autor de Arte Poética.
Disse-lhe na altura, e mais digo hoje, que as palavras dos
surrealistas portugueses acrescentam grandeza a Pascoaes e que a
sumptuosidade, a diferença, a elevada alma (funda também) do
surrealismo em português, não se entende sem se perceber a
leitura que ele fez, contra os ácidos ventos e as negras marés
do tempo que lhe foi circunstância, do autor dos Cânticos
ou dos Cantos Indecisos, que, se não clamam por Maldoror,
são porém tão essenciais e instintivos como o mar e o trovão, o
sal e o vento, a árvore e o risco do relâmpago. Lástima minha é
que quem tão bem soube saudar Teixeira de Pascoaes, como José
Marinho por exemplo, não tenha sabido em simultâneo reconhecer –
melhor, dizer – a grandeza de M. Cesariny, A. Maria Lisboa e
Cruzeiro Seixas, todos contas afinal dum mesmo e muito antigo
fio, esse que vem dos cantares maninhos dos moçárabes das
karjas e vai direito para a saudade perturbadora de Dinis, Usque,
Bernardim, Camões, Gaspar Frutuoso, Fernão Álvares do Oriente,
Agostinho da Cruz, Bernardo de Brito, Manuel de Melo [o
cabalista (de Cesariny)], Sampaio Bruno, Pascoaes, Pessoa &
companhia. E Ernesto Sampaio (1935-2001), o grande visionário de
Luz Central, o mais enérgico teórico do surreal em
portuguesa língua (depois de António Maria Lisboa), também lhe
pagou pesado tributo (a ela, saudade) como se vê e se verá cada
vez melhor no seu muito vivido e sofrido testamento escrito,
Fernanda (2000).
|