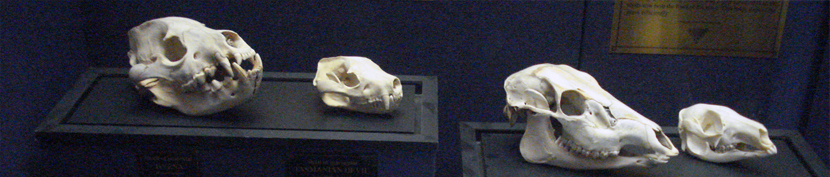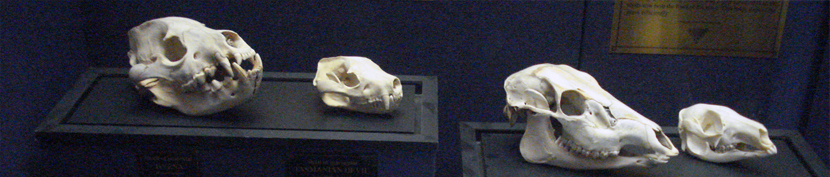Luís de Camões, leitor de Petrarca, amoroso pela “activa”
Júlio Conrado
Luís
Vaz de Camões, o maior poeta português de sempre e um dos vultos
da literatura do Renascimento, permanece um enigma para a
maioria dos estudiosos da sua obra e da sua vida. Densas zonas
de penumbra impedem a caracterização rigorosa do sulco juvenil
numa literatura que não prima pelo encarecimento da factualidade
biográfica, afigurando-se apenas indiscutível que as
atribulações de uma existência insegura desde cedo sinalizaram
os destinos do homem como inapagável marca de água sem contudo
obliterarem a prodigiosa evidência do seu consistente arsenal
teórico. Logo aí, na adolescência, haveria que determinar as
causas do que viria a revelar-se uma sólida cultura bebida nos
clássicos, servida por uma intuição de sobredotado para
apreender os modelos e os códigos literários vigentes na Europa
erudita e disseminados no ocidente periférico pela via do latim.
Dá-se por provável que este cabedal de erudição o tenha Camões
adquirido em Coimbra, onde estudou ( talvez ) sob a
protecção de um tio, o frade crúzio Bento de Camões, prior do
Mosteiro de Santa Cruz e chanceler da Universidade. Aí terá
frequentado um curso de Artes e desistido de abraçar a carreira
eclesiástica para a qual eram encaminhados os filhos dos
fidalgos pobres, depois de ter tido acesso aos centros da
aristocracia intelectual coimbrã - a biblioteca do Mosteiro era,
só por si, uma das melhores da Europa - e convivido com mestres
de superior formação humanística forjados na escola do
Renascimento triunfante.
De regresso à cidade natal, Lisboa, por volta dos vinte anos,
salienta-se pelo envolvimento nas mais variadas tropelias que o
conduzem a desterros, à prisão, ao Paço, onde levanta os olhos
para damas inacessíveis e a prostíbulos como o
Malcozinhado onde confraterniza com a escória local. Daí,
parte para um primeiro desterro no Ribatejo (Constância) ao qual
corresponde a lenda de um amor por alguém que pairava acima das
suas possibilidades, sendo que a dama em questão tanto poderia
ter sido a infanta D. Maria como Francisca de Aragão ou uma das
três Catarina de Ataíde, comprazendo-se os seus biógrafos em
especulações ambiciosas à volta do objecto da paixão daquele que
em vária flama variamente ardia. Nada há que comprove este
contencioso nos termos em que a lenda o articula no imaginário
popular e nas suspeitas de alguns historiadores mais dados à
leitura livre do espírito da época. Daí, Lisboa, sai para a
expedição a Ceuta, onde perde o olho direito numa escaramuça
contra os mouros. Lisboa assiste ainda à sua partida para a
Índia como soldado raso depois de cumprido o castigo resultante
do famoso episódio da cutilada no funcionário da Cavalariça
Real, Gaspar Borges, que lhe valeu o encarceramento durante nove
meses numa das piores enxovias da capital - a prisão do Tronco.
A menção, na Carta de Perdão Real de 1553, de que o mancebo
pobre se oferece para servir el-rei na Índia, expediente
de que Camões decerto lançou mão para acelerar o acto de
benevolência régia que o colocaria fora da cadeia e naturalmente
também para “fugir a quantos laços nessa terra (Lisboa) me
armavam os acontecimentos”, como mais tarde dirá numa carta a um
amigo, esvazia a versão do desterro compulsivo ainda que dele,
desterro, se não exclua a importância da pressão das
circunstâncias adversas.
O espólio epistolográfico constituído por cartas dirigidas a
amigos dá do “período de Lisboa” um retrato arrasador que
dificulta a construção do mito nacional camoneano nos moldes em
que tantos o tentaram erguer - ao arrepio da verdadeira condição
social do poeta no quotidiano do seu tempo e da natural
propensão para se enredar em casos de ordem pública pouco
dignificantes para a sua reputação. O carácter brigão que o
celebrizava como arruaceiro roubava-lhe espaço como cidadão e
provavelmente qualificava-o como ornamento cultural indesejável
no Paço. Por algum motivo lhe chamavam o Trinca Fortes,
alcunha de que, aliás, se ufanava, achando que, quanto às solas
dos pés, de mas não verem nunca, me fez ver as de muitos.
O auto-reconhecimento das nefastas consequências para a sua
imagem das amizades que se acendiam em ódios que disparavam
lume que (lhe) deitavam mais pingos na fama do que nos
couros de um leitão é patente numa das cartas.
António José Saraiva, um dos biógrafos de Camões, comentando o
livro de Aquilino Ribeiro Camões Fabuloso e Verdadeiro
(1951), não hesita em corroborar a tese do grande escritor
português segundo a qual “as mulheres ( de Camões ) foram não as
infantas eternamente virginais mas as rameiras; por companheiros
teve os arruaceiros que se chocavam em bandos na Lisboa nocturna
da época, de mistura com os embarcadiços de passagem.” Mas não
embarca em todas as interpretações que Aquilino, na sua ânsia de
apoucar um mito recuperado e trabalhado para servir os desígnios
do nacionalismo salazarista, vai buscar às cartas, apesar
de concordar com a ideia de que o poeta foi um outsider
relativamente aos literatos instalados, um inadaptado, um
mal-amado orgulhoso mas impotente perante a acção de mecanismos
de poder cujo funcionamento não percebia e cuja malignidade, ao
ser escolhido para vítima, atribuía à má fortuna e ao
destino.
Escreve Saraiva:
“A poesia de Camões revela uma cultura incompatível com uma
formação literária superficial ou de autodidacta. Não é apenas a
mitologia, a história, a cosmografia, semeadas na sua obra com
segurança e familiaridade; não é apenas o conhecimento da
Bíblia, de que glosou vários passos...; não é apenas o
platonismo, que conheceu e meditou. É, mais do que isso, o
conhecimento dos clássicos latinos, com Vergílio à cabeça. E é
sobretudo a qualidade do estilo, revelando o saber experimentado
do latim, a mão longamente amestrada, a mão sábia. Camões é,
mais do que um homem de letras, um letrado, e o mais sabedor
letrado do nosso século XVI... Ora essa mão ensinada e erudita,
produto de uma longa paciência estudiosa, só se adquire na
escola, desde menino... Camões cursou com aproveitamenrto as
Humanidades.”
Salta, pois, à vista de todos que Camões, homem culto em cujo
espírito fermentou o ideal renascentista de ressurreição das
letras e das artes, viveu intensamente, na parte que lhe coube,
em sintonia afectiva, emocional e cultural com ele, o período
caracterizado por Jean Delumeau como promoção do Ocidente,
“durante o qual a civilização da Europa ultrapassou em muito o
nível que fora atingido pela da Antiguidade e pelas outras
civilizações paralelas”. Inteligente e inconformista,
sobrevivendo no dia-a-dia por vezes ao nível da pura
subsistência mas situando-se em plano superior aos seus
concidadãos nas luzes do conhecimento, na inquietação
intelectual e na intuição artística, Camões cantou o Amor nas
belas composições em dolce stil nuovo que denunciam a
influência retardada de Petrarca e do seu epígono Bembo na
exaltação da figura da Mulher, pelo menos numa fase da sua
produção - a da juventude - que se presume ser a mais ligada ao
paradigma italiano.
“Boa parte do lirismo camoniano é constituído por poesia amorosa
do mais alto e fino platonismo, e o grande mestre dos
platonizantes dos séculos XV e XVI, entre eles Camões, era
Petrarca.”, diz Hernani Cidade no seu Luís de Camões,
Arcádia, 1964. Trinta e um anos mais tarde Aníbal de Castro (Biblos,
1995) chama a atenção para a urgência em se promover um trabalho
de investigação exaustivo “segundo as recentes metodologias da
teoria da recepção e do confronto intertextual, de modo a
determinar com mais precisão a complexa rede de relações que
liga o texto camoniano à cultura literária do seu tempo.” Para
este professor da Universidade de Coimbra, o papel da poesia
catalã de um Ausias March na transmissão dos códigos do
Petrarquismo e do Neoplatonismo peninsulares, reclamam uma nova
e especial atenção da parte dos investigadores. Camões cantou o
amor e a mulher “segundo os cânones mais rigorosos da tópica e
da retórica petrarquistas”, é certo, mas, refere ainda Aníbal de
Castro, “recolhendo, com um admirável sentido de ecletismo
várias tradições estéticas”, para com os elementos delas
recebidos operar “uma profunda metamorfose, que abrange todos os
aspectos conteudísticos e formais presentes no texto literário.”
Nesta medida, Camões ter-se-á apropriado do código petrarquista
para o reorganizar “em função de um veemente e múltiplo dissídio
dialéctico” cuja afirmação lírica passou pelo recurso “aos meios
semânticos e estilísticos que a tradição petrarquista, numa
dimensão bem mais reduzida, consagrara à simples expressão
'estado incerto' “ e que, na época, “já estavam confinados à
condição de estereótipos formais bem pouco convincentes”.
Passando por alto que a vertente petrarquista da lírica de
Camões, associada a manifestações de petrarquismo noutros
autores, conhece hoje em Portugal um renovado movimento de
atenção por parte de alguns estudiosos ( veja-se o texto de Rita
Marnoto O Petrarquismo Português do Renascimento e do
Maneirismo, U. Coimbra, 1994), fixemo-nos, para terminar,
num livro precioso intitulado Viagens do Olhar, Retrospecção,
Visão e Profecia no Renascimento Português ( Prémio Jacinto
Prado Coelho,1998 ), da autoria de um romancista e ensaísta,
Helder Macedo, e de um filósofo, Fernando Gil. Neste trabalho a
duas mãos sublinha-se, em jeito de lamentação, o facto de Camões
não se ter organizado para a posteridade, tal como o fizeram
Dante e Petrarca, o que leva a que a questão da cronologia da
lírica seja um processo permanentemente em aberto, território
mal identificado, perigoso para os timoratos, sedutor para os
audazes. O escritor, que se ocupou da lírica ajudado por algumas
cartas, optou pela audácia. Preferiu pôr o seu olhar arguto a
viajar pela obra com o propósito de conferir alguma coerência
sequencial ao que se dava a ver, mau grado a inocente
ausência de coordenadas de tempo e de lugar constrangerem a
visibilidade do trajecto diacrónico da escrita e do seu sujeito.
Helder focou a lírica numa perspectiva do desejo - apetite e
razão - não muito estudada por contemporâneos e antepassados,
que aponta para a reavaliação da personalidade do poeta através
do recurso a métodos de psicanálise textual em que o tema
recorrente do amor fornece as informações de que a investigação
precisa por forma a que o veio satírico-vitalista se sobreponha
à linha mais conforme às convenções literárias da época.
No ensaio de H. de M. são evidenciados alguns sinais da
consciência que Camões tem da oposição entre a experiência
vivida e os modelos estéticos que durante um dado período foram
os seus. De certa maneira, o poeta “petrarquista” liberta-se do
pai poético num processo normal de ruptura que configura o
abandono de uma tutela que não encaixa já no conhecimento
prático das dialécticas do quotidiano e no que desse
conhecimento se torna matéria viva do poema. Camões - escreve H.
de M. - “ficou a dever a Petrarca acima de tudo a aprendizagem
poética que lhe permitiu tornar a língua portuguesa um
instrumento capaz de cantar com italiana luminosidade.” Mas a
crítica ao amor inconsequente expressa numa das suas epístolas,
com alusões directas a Petrarca e a Platão, deixam poucas
dúvidas quanto ao entendimento anti-petrarquista e pragmático
que Camões tem do assunto amático: E eu já de mi vos hei
confessar que os meus amores hão-de ser pela activa, e que ela
há-de ser a paciente e eu agente, porque esta é a verdade.”
Entre a passiva deificação da Mulher da lição clássica e as
tarefas de agente “pela activa” que têm por objecto a
submissão da paciente, o vate resolve-se pelas segundas,
ou seja, pela tomada de partido pela vida, o que vale por uma
revisão radical do aprendido à custa do que a experiência ensina
e corrige. De facto, uma experiência de errância, de conflito
com a lei, de permanente desafio da novidade, de viagem, de
amores múltiplos espalhados pelas partidas do mundo onde pousou
os pés, só poderia repercutir no texto poético do modo que
Helder de Macedo lucidamente sintetiza: apetite e razão.
A razão da angústia existencial não lhe vem da dicotomia amor
platónico / amor consumado porque essa, tudo o indica, logrou
ele resolvê-la dando escoamento normal aos mais categóricos
apelos orgânicos, mas sim dos desconcertos de um mundo
onde o apetite de ser feliz “pela positiva” sempre se cruzou no
lugar mítico da contabilização dos seus erros com o agudo
remorso desses mesmos erros. Erros meus, má fortuna, amor
ardente, eis a confissão l de infelicidade vinda de quem tanto
desesperou para ser feliz. No fim, o universo pesaroso que
anunciava a dissolução da pátria no império espanhol e a
consolidação do poder emergente da Santa Inquisição
associaram-se da pior maneira ao fado triste que foi a vida
deste poeta maior. |