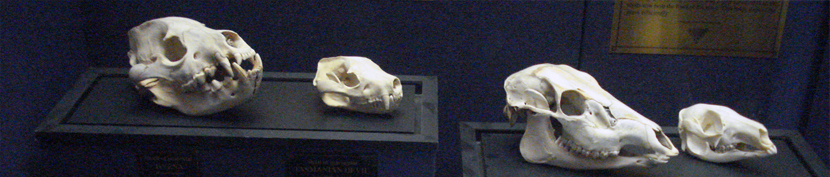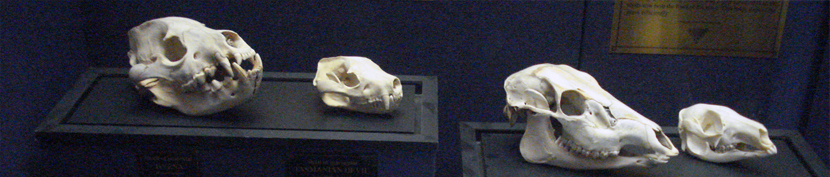Em Carcavelos, com Fiama Hasse Pais Brandão
Júlio Conrado
A
obra de Fiama Hasse Pais Brandão, poeta portuguesa nascida em
1938, é considerada uma das mais significativas da geração
revelada nos anos sessenta. A escritora vive neste momento o
drama de uma doença prolongada, circunstância que trouxe para
primeiro plano trabalhos de datação mais recente nos quais há
aspectos biográficos de que ressalta uma íntima relação com o
lugar da infância e da adolescência – uma pequena quinta de
Carcavelos, em cujo portão de ferro se lê ainda o nome:
Vivenda Azul.
A sua obra
mais próxima do que geralmente se entende por autobiografia é no
entanto o romance intitulado Sob o Olhar de Medeia,
publicado em 1998. Aí, o mundo que assiste ao crescimento de
Marta, a protagonista, é mimado de modo tão ostensivo dos poemas
em que o “sujeito” mais claramente se assume como produtor de
sentido que somos tentados, numa primeira aproximação ao
romance, a encará-lo como um daqueles textos que mais parecem
autobiografia escondida com o rabo de fora - aquilo a que Helder
Macedo chama “romance vindimado”. Uma observação mais atenta
propiciará, em todo o caso, inflexões na viagem da leitura que
permitirão pelo menos duvidar que todo o romance seja
confessional ou reprodução fiel da experiência vivida. Desde
logo, o título levanta suspeitas. Medeia é uma das duas bruxas “
boas” da Antiguidade Helénica – a outra, como se sabe, é Circe.
O apelo ao concurso da tutela de Medeia implica o uso de poderes
de transfiguração cujo alcance excede a capacidade de previsão
do receptor desprevenido do texto.
Em
princípio, Marta é Fiama, mas esta é também a Medeia detentora
do dom de manipular o passado para o reconstruir reinventando-o,
limpando-o de elementos disfóricos e introduzindo na descrição
dele artifícios de efabulação de base onírica ou comprazendo-se
na viciação imaginativa dos dados da memória.
A
referencialidade do lugar perdura, todavia, na narrativa, com a
exactidão de um retrato sem legenda. A escassez de informantes
desencoraja o estabelecimento de coordenadas identitárias
capazes de definirem administrativa e socialmente o sítio – só
em dois dos últimos poemas de Fiama, com a menção de terem sido
escritos em Carcavelos, se vislumbra a contextualização
toponímica da quinta. Sítio que é parceiro num processo de
aquisição de conhecimento que decorre à margem da faculdade de
nomear e de socializar, pois prevalece o ensinamento do
mestre-escola de Marta, mentor da aprendizagem individual do
mundo pela leitura dos mitos da Antiguidade. A quinta é a
quinta, a Vila é a Vila, a praia é a praia, entidades
inomináveis, “povoadas” por Ulisses e pelos Argonautas em
demanda do Velo de Ouro. A ausência da crispação que a hegemonia
do nome cristaliza à roda de um certo modo de certificar o
espaço cénico do paraíso, recorda a lição dos primitivos,
radicalmente ligados à terra, alheios ainda a leis de
organização civilizacional que virão um dia transformar em mito
esse convívio directo com os elementos primordiais – a luz, a
terra, o ar, a água, o fogo – aqui recuperados pelos poderes
mágicos de uma feiticeira culta para dourar a arrumação
literária de um singular percurso de descoberta.
Poderá
então falar-se, lendo o romance de Fiama, de um lugar sem nome,
paridisíaco, de flora variada, exuberante, onde elementares
saberes de cultivo e artes ancestrais de pastoreio combinam com
a proximidade do mar e com as inclemências ou as amenidades
climatéricas na constituição do palco sobre o qual as vidas de
Marta e de Fiama são representadas em harmonia plena com a
Natureza. Neste lugar não há luta de classes. A relação
servo-amo perde sentido ante a inexistência de conflito e de
aspirações reivindicativas por parte de quem se submete, o
Caseiro, a quem submete, o Senhor da Casa, ou a Voz, como
aparece sibilinamente caracterizado no processo revelador das
tensões entre pai e filha.
Assim, da
contiguidade diferenças sociais/Natureza viva
ressalta a naturalização dessas mesmas diferenças que do futuro
o olhar de Medeia torna ainda mais assépticas e destituídas de
perigo. Os sinais de distúrbio e de fractura vêm, então, de
Lázaro, o filho do Caseiro, ciumento dos desvelos prodigalizados
pelo pai à Menina; dos rapazes pobres incitados por ele, Lázaro,
a assaltarem a quinta para o roubo da fruta; dos lenhadores
furtivos causadores do acidente de Jesus devido a um abate
clandestino de árvores; da própria Marta, ao ser capaz de
detectar na austeridade paterna cambiantes despóticas a que
instintivamente se opõe e que o omnipresente olhar de Medeia não
desautoriza, evita ou desdramatiza. Mas estes são focos isolados
de revolta facilmente neutralizáveis pelas defesas do sistema, à
época vigente, baseado no direito da propriedade, na
desigualdade entre ricos e pobres e na supremacia do homem sobre
a mulher – esta última consubstanciada na submissão da mãe de
Marta às “orientações” do Senhor da Casa, com grande indignação
da filha, que não encontra na que lhe deu o ser a aliada
desejada contra o “ditador”.
Sabemos
que Marta abandonará um dia este seu paraíso vigiado, este mundo
paradoxal de clausura e conforto típico de uma alta burguesia
que prosperou à sombra da ditadura, para dilatar os horizontes
de conhecimento entregando-se a causas edificantes, merecedoras
de intervenção cívica activa. Aquela que Fiama define como uma
“geração quase perdida” sacode-se do torpor para,
independentemente da origem de classe, se bater contra a
privação da liberdade de expressão do pensamento num quadro de
repúdio pela guerra colonial, esse fenómeno que agitou a
consciência da juventude portuguesa nos anos sessenta. O lance
final de Sob o Olhar de Medeia oferece-nos a imagem de
uma Marta integrada numa manifestação estudantil que sobe a
Avenida da Liberdade, em Lisboa, ao encontro da polícia de
choque que a tiro tenta dispersar os contestatários.
Sabemos
que Fiama, percorridos os caminhos da participação cívica, do
amor, da maternidade, da dor, da realização literária por
domínios tão diversificados como o teatro, o ensaio , a
tradução, a poesia e o romance, regressa à quinta para, num
último sobressalto suscitado pelo apelo das origens, acertar
contas com os seus fantasmas mas também glorificar o lugar da
aprendizagem da vida, sempre surpreendente na sua capacidade
sasonal de renovação, sempre caixa de ressonância dos ruídos
trazidos pelos ventos do norte ou pelas brisas oceânicas que
nela despertam as vibrações do mundo reminiscente lavado pela
ternura do olhar novo e sábio com que o revisita.
Os últimos
livros de poemas de Fiama – As Fábulas, Espístolas e
Memorandos e Cenas Vivas – são um diálogo permanente
com o lugar e os seus espíritos, um perscrutar minucioso de
pistas que o cheiro da terra e a configuração dos espaços mantém
intactas para que possa rescrever-se no soberano respeito por um
imaginário criado a partir desse chão o último capítulo de um
grande amor por ele. Em dois poemas lê-se a palavra
Carcavelos. Num endereço postal lemos uma marca precisa:
Vivenda Azul. A quinta ainda lá está, não se sabe por
quanto tempo mais assim, nas mãos de outros proprietários. Mas o
que dela resta como testemunha de uma presença humana singular
já só existe nos livros que as descrevem a ambas em versos
luminosos e apaixonados. |